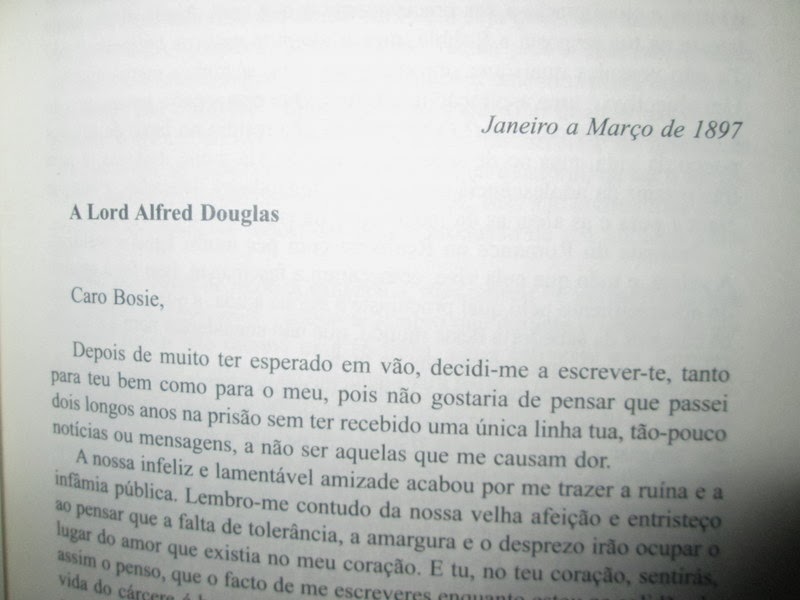A minha amiga Conceição mostrou-me ontem à noite este artigo da The New Yorker, que não resisto a transcrever na íntegra porque muitas das pessoas que me lêem votam a boa parte dos livros nele referidos um culto tão apaixonado como o meu.
«“If I were reading this diary,”
Virginia Woolf wrote in her journal, in 1929, “I think I should seize with
greed on the portrait of Nellie, and make a story—perhaps make the whole story
revolve around that—it would amuse me. Her character—our efforts to get rid of
her—our reconciliations.” Woolf was referring to Nellie Boxall, the domestic
servant who spent eighteen years with the Woolfs until her tumultuous
dismissal, in 1934. (Woolf didn’t elaborate on the cause, writing only that it
ended with Nellie standing in the kitchen, “grasping a wet cloth at the sink
and staring.”) Nellie so occupied Woolf’s thoughts that, as Alison Light
reports in her wonderful 2008 book, “Mrs. Woolf and the Servants,” “Virginia
wrote obsessively about Nellie in her diaries and letters.” Nellie-related
anecdotes—her refusal to make marmalade, her “rather waspish” behavior toward
unannounced guests, the fact that she gave notice ten times in six years—crop
up everywhere in Woolf’s writing; so much, in fact, that “editors have been embarrassed
by their superfluity.”
At the turn of the twentieth
century, domestic service was the single largest occupation in Britain, as well
as the greatest economic provider for women. By 1850, eighty per cent of
servants in middle-class homes were female. As Light persuasively argues, “The
history of service is the history of British women.” And yet servants are a
ghostly presence in the literature of Woolf’s time. They are seen and unseen,
both part of the family and perpetual outsiders. In 1941, Woolf wrote a scene
that included a lavatory attendant, but later drafts of the same piece
contained no sign of her. “The shadowy outlines of the poor and of servants can
be seen in many of the earlier versions of Woolf’s work,” Light writes. “Why
did she so often blue-pencil them out?” Light theorizes that Woolf “was driven
by the urgent need to handle and reshape what she found unaesthetic, even
repulsive, especially when it concerned the life of the body.” And what greater
reminder is there of the life of the body than a person whose role is to
administer to it?
Woolf wasn’t the only one to
“blue-pencil” out the servants. While literature is filled with famous
governesses—Brontë’s Jane Eyre, Thackeray’s Becky Sharp, and the unnamed
narrator in James’s “The Turn of the Screw,” to name a few—the same isn’t true
for housemaids. (There’s the famous exception of Pamela, Samuel Richardson’s
eighteenth-century housemaid, who undergoes a long and torturous seduction at
the hands of her master, but she is one of the few who is fully at the center
of a novel.) The distinction is important: governesses had a degree of literacy
and social mobility that housemaids did not; they were largely middle class,
and, but for their clothes, they could pass as members of the upper class. But,
unlike governesses, housemaids were essential to the functioning of most
Victorian homes. As Light writes, “Without all the domestic care and hard work
which servants provided there would have been no art, no writing, no
‘Bloomsbury.’ ”
This hard work went largely
unacknowledged in literature until the second half of the twentieth century,
when the diminishing presence of household staff in English society coincided
with an increased demand for first-person accounts of servants’ lives. Lucy Lethbridge,
in “Servants,” a history of domestic service, lists many such memoirs: “Below
Stairs,” the best-selling 1968 autobiography of Margaret Powell, a former maid;
Jean Rennie’s “Every Other Sunday”; and countless how-to books by ex-butlers,
with titles like “Ager’s Way to Easy Elegance” and “Butler’s Guide: Clothes
Care, Managing the Table, Running the Home and Other Graces.” Between 1971 and
1975, “Upstairs, Downstairs,” the British television series about the goings-on
in an Edwardian household, reached an estimated billion viewers worldwide.
We are now in the grip of another
servant renaissance. Powell’s sequel to “Below Stairs,” called “Servants’
Hall,” was published in 2013; the memoir “Rose: My Life in Service to Lady
Astor,” from 1975, is back on the shelves as a new Penguin paperback; and “Life
Below Stairs: The True Lives of Edwardian Servants” was published in 2012.
Servant-focussed movies like “the Butler” and “The Help” have captured the
attention of Hollywood, and then, of course, there’s “Downton Abbey,” ITV’s
runaway hit show.
Perhaps the most distinguished and
powerful example of this newly revived genre is Jo Baker’s recent novel,
“Longbourn,” which asks readers to think of the unpleasant chores that make up
the unwritten backdrop to one of the most celebrated novels in English
literature. Those familiar with “Pride and Prejudice” know that, midway through
the Jane Austen novel, Elizabeth Bennet embarks on an expedition to Derbyshire
with her aunt and uncle, where she and the Gardiners visit the magisterial
grounds of Pemberley, Mr. Darcy’s estate. But few readers wonder who looks
after the four Gardiner children while their parents are away. We read that the
little ones stayed behind in Longbourn, with the Bennets, but, swept up in the
impending romance between Elizabeth and Mr. Darcy, we don’t give these
practical arrangements much thought. But in Baker’s retelling, which is
centered on the Bennets’ young housemaid Sarah, the Midlands trip is the cause
of “a deal of extra trouble, and noise, and meals, and washing…. shitty
nappies, the wetted beds: the work.”
In “Longbourn,” pumps are cranked,
buckets are filled, chamber pots are emptied into reeking outhouses. We read
about servants’ “footsore hours” and backbreaking tasks, and we encounter the
Bennet sisters mostly via their soiled linens, “their sweat, their stains,
their monthly blood.” In Baker’s novel, Kitty and Lydia, the younger Bennet
girls, treat the servants insufferably, while Jane and Elizabeth are as
benevolent toward them as social restrictions allow. They give the maids their
old dresses, and even books, though they don’t mind dispatching a young maid
into the driving rain to buy shoe roses. (Austen writes, “The very shoe roses
for Netherfield were got by proxy.”)
“Pride and Prejudice” experts can
take pleasure in Baker’s fidelity to the details of the Austen novel: as she
explains in an afterword, every carriage that the Bennets take in “Pride and
Prejudice” awaits them in “Longbourn”; every meal the family eats in the former
book has been prepared in the latter. But the book’s greatest strength lies in
its precise, unsparing descriptions of the physical squalor and destitution of
nineteenth-century downstairs life. “He was dirty,” she writes of James. “His
fingernails were black, his hair filthy, there was a rime of grey about the
skin and clothes. And the clothes themselves looked as though they’d been
stolen off half-a-dozen different washing lines.” Mr. Darcy studies Sarah “as
if she were an unconsidered household item that had abruptly ceased to
function.” And Sarah, in turn, offers, a slanted, skeptical look at Austen’s
much loved heroines. Glancing at Elizabeth, before they depart for Pemberley,
Sarah reflects, “Perhaps it was not an easy thing, to be so entirely happy.
Perhaps it was actually quite a fearful state to live in—the knowledge that one
had achieved complete success.” In this telling, Elizabeth has nothing more to
aim for—it is Sarah who keeps striving to blaze her own path in life.
Adaptations of “Pride and Prejudice”
are not new, of course. We’ve seen everything from “Bridget Jones” to a
portrayal of Lizzie’s past as a zombie hunter. But “Longbourn,” with its
emphasis on the live-in servants, offers an especially appealing, and timely,
reworking of the classic. What accounts for the sudden burst of interest in
life downstairs? The answer may be related, in part, to our troubled economy
and to a new sense of reluctant identification with the nineteenth-century
underclasses. Stories about servants offer us a two-fold consolation:
unfettered access to the lives of the upper classes, as well as a kind of
schadenfreude in observing the narrow lives of British servants more than a
hundred years ago. The economy may be tanking, but at least we don’t have to
unload stinking chamber pots into the sewer. We may not be swimming in
champagne but, as the surge in servants’ literature reminds us, we could do far
worse. We indulge in a tendency to subsume our present problems in a fiction
about the past.
Baker’s novel goes beyond escapist
fantasy, drawing subtle comparisons between past and present. Much as Jean
Rhys’s reimagining of “Jane Eyre” through a postcolonial perspective became
popular in the late nineteen-sixties, when “Wide Sargasso Sea” was published,
so is Baker’s class-conscious reconsideration of “Pride and Prejudice”
representative of our own time. Theirs is not a restrictive view of the past
but an inclusive one, similar to Kazuo Ishiguro’s in his nuanced depiction of
Stevens, the aging butler-narrator of “The Remains of the Day.” In the novel,
Stevens gradually comes to term with certain unattractive truths about his
former employer, Lord Darlington. Toward the end of the book, Stevens’ fierce
sense of loyalty is suddenly shot through with a hint of rebellion:
Lord Darlington wasn’t a bad man. He
wasn’t a bad man at all. At least he had the privilege of being able to say at
the end of his life that he made his own mistakes. His lordship was a
courageous man. He chose a certain path in life, it proved to be a misguided
one, but there, he chose it, he can say that at least. As for myself, I cannot
even claim that. You see, I trusted. I trusted in his lordship’s wisdom. All
those years I served him, I trusted I was doing something worthwhile. I can’t
even say I made my own mistakes. Really—one has to ask oneself—what dignity is
there in that?
This kind of rebellion also crops
up, and is expanded upon, in “Longbourn,” leading Sarah to reflect that “no one
should have to deal with another person’s dirty linen.”
Photograph:
London Stereoscopic Company/Getty»
Por mais que abomine a exploração despudorada dos valiosos e apetecíveis filões que podem ser romances muito amados por sucessivas gerações de leitores, e temos exemplos deploráveis como há coisa de vinte anos aquela absurda e revoltante continuação de E Tudo O Vento Levou ou, mais recentemente, o sacrilégio de que Os Maias foi vítima, a verdade é que este romance de Jo Baker, Longbourn, me despertou grande curiosidade, e não sinto que violente a minha paixão pela obra-prima que lhe deu origem. Porque não toca na história que conhecemos de cor e salteado, ainda que a cada renovada leitura possa sempre surpreender-nos por mais um pormenor que antes nos tinha passado despercebido, prova inequívoca da grandeza da criação do escritor. Longbourn não acrescenta nada a Orgulho e Preconceito, acaba onde acaba o original, com o casamento de Lizzie e Mr Darcy. Não vemos a nova Mrs Darcy principescamente instalada em Pemberley a tomar um chá benevolente com a Miss Bingley que tão pouco simpática nos é ao longo do livro, e que provavelmente só não teria acabado os seus dias como solteirona amarga instalada em casa do irmão ou da irmã porque dona de apetitoso dote.
Se Beaumarchais deu uma continuação desencantada (e revolucionária, muito seguramente um dos pequenos rastilhos isolados que, todos somados, levaram à tomada da Bastilha em 1789) à sua deliciosa peça O Barbeiro de Sevilha, estava no seu direito, a peça era sua e dela podia fazer o que quisesse, e assim nasceu As Bodas de Fígaro. Que tais obras tenham dado origem a duas das mais soberbas construções musicais que a humanidade conhece, a primeira pela mão de Rossini e a segunda por Mozart (e Da Ponte, convém não esquecer o extraordinário libretto) pouco interessa agora. O que me repugna é que estranhos venham mais tarde pegar em extraordinárias obras que se tornaram património cultural de todos para as usar em seu proveito, porque o vil metal fala mais alto. E há sempre patos que vão no conto do vigário. No caso de Longbourn, mantenho, estou curiosa, por se tratar de uma construção literária passada nos bastidores, acompanhando a par e passo a acção e as personagens que tão bem conhecemos. Um outro olhar sobre a história, ou a história e as personagens vistas pelos olhos dos criados.
O livro, de resto, como já fui espreitar na Amazon (
aqui), tem
rave reviews: em 82 críticas feitas por gente que quase toda sabe o que diz, 48 atribuem-lhe cinco estrelas e 19 dão-lhe quatro.
À margem, não consigo resistir a mencionar uma personagem que não é referida no artigo, ao listar personagens que nos são muito familiares: a Mrs Danvers de Rebecca. Ou a criada de infância do narrador de Em Busca do Tempo Perdido. E é impossível não suspirar de desgosto por uma tão extraordinária personagem como a Juliana de Eça de Queiroz continuar desconhecida dos amantes da grande Literatura.
Para finalizar, já tinha visto em tempos um muito interessante documentário sobre as condições de vida e a hierarquia da criadagem na Inglaterra vitoriana. Ontem, durante a conversa com a Conceição, encontrei mais dois, que tenciono ver ainda hoje. Aqui ficam os links:
De vez em quando gosto de relancear um olhar pelos comentários no YouTube. E neste último documentário encontrei este, escrito há dois meses:
Michael Mangan
I have recently retired as the proverbial
English Butler. My early years were spent working for british aristocracy. I
began as a 3rd footman , and worked my way up as I learned the profession.It
was fun , good employers, and fellow staff. I was warned to stay away from
"new money". But I fell into the trap when there were very few of the
older people left. Employers who knew the rules , as did we. The new money
crowd , do not as a whole know how to treat staff. I hope a few watch this
series.